O semicapitalismo é formado por duas exigências fundamentais: monopólios públicos e/ou privados de empresas, empregos e serviços, e economia dirigida. O estatuto legal dentro da lógica cartorial garante sua existência. Entendido como uma aberração da sociedade feudal encravada nas sociedades modernas, o semicapitalismo é um sistema de alianças e de distribuição de direitos, majoritariamente criado pelo sistema político e suas peculiaridades de representação. Do ponto de vista político, é chamado de fascismo, mas do ponto de vista econômico, é chamado pelos estudiosos de mercantilismo. O fascismo é um modelo de organização política cuja principal ordenação social gravita em torno do Estado. O mercantilismo é a economia dirigida, ou seja, aprovada e protegida pelo aparelho legal do Estado.
Analisando um pouco sua composição social, antes de entrar na fisiologia do sistema, o semicapitalismo brasileiro é composto pelo sistema estatal e pelas inúmeras e infindáveis ordenações compulsórias que vivem do estatuto legal aprovado pelo sistema político de representação, mas claramente repudiado pela sociedade.
Através da máquina posta em ação pelo sistema estatal, o semicapitalismo ocorre:
1. No mundo do trabalho — pelos sindicatos, órgãos de representação profissional como CREAs, CRASs, CRMs, etc.
2. No mundo das finanças — pela proteção ao sistema bancário, seguros obrigatórios, taxas de intermediação, etc.
3. No mundo estatal — pela burocracia arrecadadora encarrapatada na proliferação de impostos, taxas, contribuições compulsórias, etc.
4. Pelos despachantes, que com sua habilidade papelífera intermediam o cidadão com a burocracia.
5. Pelas empresas fornecedoras do Estado — um contingente empresarial que abrange mais de 50% do PIB nacional e cuja participação no mercado estatal é garantida por estatuto supostamente legal, mas efetivamente por vínculos políticos que garantem contratos, e pelo formalismo de concessão de licenças, certificações, burocracia de certidões, comprovantes de custos altos para manter o resto da sociedade afastada da "competição" das licitações.
6. Pelos milhares de cargos políticos nas instituições representativas do país.
7. Pela indústria de certificações, inspeções, etc, que são contigenciadas como "autorizadas" pela máquina regulatória.
No passado, o semicapitalismo evoluía com a simples criação de empresas estatais — era seu período dourado. Bastava a carta de um político e o emprego estava garantido. Atualmente, embora acossado pelas privatizações em algumas áreas, continua intacto quando envolve a burocracia do Estado. A manutenção desta estrutura, com cerca de 50% da vida econômica do país, é fundamentada nos seguintes parâmetros sistêmicos clássicos:
1. Estabilidade do servidor público e sua vitaliciedade no emprego que, no dizer de Lobato, degeneravam em calamidades vitalícias.
2. Garantia de direitos exclusivos ao servidor público resultando em vantagem de benefícios relativamente ao resto da sociedade.
3. Modelo de fragmentação tributária garantindo a expansão permanente da burocracia pela ocupação cada vez maior de pessoas nas atividades autorizadora, licenciadora e certificadora.
4. Direitos adquiridos, entendidos da seguinte forma: se os direitos forem quantitativamente melhores do que outro padrão no resto da sociedade. Por exemplo, aqueles direitos universais e válidos para todos.
Mas isso não tem nada a ver com o Brasil, pois aqui os direitos adquiridos foram colocados por baixo do pano na Constituição de 1988, entendendo-se por benefícios que não são iguais para todos, instituídos em legislação específica, como a insalubridade ou coisa parecida. O resultado foi o entendimento jurídico de que a sociedade é desigual e assim deve ser entendida. Isso deu origem à noção de que vivemos em um regime neoescravista, válido para aposentadorias, benefícios, isenções, impunidades, etc.
Não pode haver direitos adquiridos em uma sociedade que já realizou seus ideais de igualdade no século XVIII. Nos textos de Lobato encontramos seu repúdio visceral à existência de direitos adquiridos no Brasil, já nos anos 20, portanto como reflexos do Brasil recém saído da escravidão. Quase 100 anos depois, o mesmo estatuto jurídico do início do século vinte garante o apartheid social.
Estabilidade no emprego
Elemento importante no modelo de autoridade do sistema, a estabilidade foi criada para proteger o Estado do descalabro de seu sistema político. Foi confundida com o profissionalismo da gestão pública para resguardar os servidores do mandonismo político, das perseguições ideológicas, mas acabou protegendo os carrapatos orçamentívoros, o imarcescível parasitismo estatal indiferente à ética da responsabilidade e da racionalidade da produção e desenvolvimento econômico do Estado.
A estabilidade do servidor público equivale a um monopólio na esfera do trabalho, ao mesmo tempo em que uma estatal representa um monopólio na esfera da atividade econômica.
Para poder estar acima do sistema democrático, e ficar independente da autoridade eleita, portanto à margem da democracia, o Estado precisa estar garantido contra a intervenção dos eleitos pelo povo, até porque a maior parte dos eleitos quase sempre é uma tragédia política: a solução foi a estabilidade no emprego público. E o resultado, um Estado completamente insensível à precedência da liberdade sobre o arbítrio, dos direitos individuais sobre a fúria coercitiva regulamentadora e do desenvolvimento econômico frente às múltiplas moralidades paralisantes, tais como o ambientalismo, a reforma agrária, etc.
O Estado não nos lidera por aquilo que ele prega, pois ninguém do lado de fora acredita no que se fala lá dentro, mas por aquilo que oferece aos seus servidores, que nada mais é do que uma corrida incontrolável de pessoas para a ocupação de seus postos, sem condições de igualdade com as mesmas oportunidades de trabalho na vida privada. Trata-se de uma inversão da liderança, isto é, ninguém acredita no Estado, e, ao mesmo tempo, todos querem uma fatia dele.
As pessoas querem os cargos públicos pela estabilidade (monopólio do cargo), pela possibilidade de ascensão segundo critérios meramente simbólicos, pela tolerância com a baixa (ou nula) produtividade, e por estarem submetidas a relações de autoridade meramente formais, onde os chefes não são responsáveis pelos subordinados (e, portanto, não respondem solidariamente pelos seus atos) e os subordinados não precisam prestar contas de seus atos e erros na proporção direta do escalonamento burocrático.
Vigora o sistema de persuasão, em lugar do sistema de coerção de resultados exigidos pelo capitalismo. Isso garante a dolce vita do funcionalismo: faz se quer, diz que faz e não faz, deixa para amanhã. Evidentemente que do ponto de vista formal pode-se argumentar o contrário. Mas o formalismo é apenas uma técnica de dissimulação: o que vigora é o Brasil real, e a estabilidade é o grande escudo contra os ataques da autoridade eleita pelo povo.
Garantia de direitos exclusivos
A obtenção de vantagens sobre o resto da sociedade está relacionada ao ativismo político de seus representantes. Trata-se de uma mobilização política de atos legislativos discricionários garantindo o atendimento de reivindicações que mantenham o espírito de importância e supremacia do ego corporativista sobre o restante da sociedade. Assim, é possível conseguir supremacia sobre o capitalismo na obtenção dos benefícios que este não concede, desde que a auto-importância seja inflada e adulada.
Direitos exclusivos significam uma medida importante de avaliação de sucesso pessoal no semicapitalismo. Significam ainda desfrutar de alguma coisa que os outros não têm, o que permite comparações lisonjeiras e o triunfo do ser no cargo com honrarias que compensem a vacuidade da rotina papelífera e carimbadora.
O semicapitalismo se caracteriza por 4 fatores principais:
1. Modelo de autoridade
2. Estilo de monopólio
3. Ideologia da diferença
4. Modelo de representação
1. Modelo de Autoridade
Uma autoridade significa latu sensu o poder de coerção de un(s) sobre os outro(s). Todos nós sabemos a relação entre autoridade e autoritarismo. Ou melhor, quase ninguém sabe. No Brasil, a confusão é total. Chama-se autoritário um dirigente político que pregue a demissão de um departamento inteiro de uma prefeitura, por absoluta falta de fundamentos, ou que puna subordinados com comprovada falta de assiduidade, ou que interfira no trabalho desses mesmos subordinados.
A imprensa chama de autoritária uma pessoa que solicite um plebiscito para resolver um assunto de interesse público (e não assuntos relativos à reeleição de presidente da república).
E, diariamente, repete a mesma ideia de que vivemos num sistema representativo, e que portanto os atos políticos são totalmente legítimos, já que vivemos numa democracia plena.
De repente, a imprensa se esquece de tudo o que disse e passa a especular sobre as incoerências do nosso sistema representativo, fazendo coro aos que pregam uma reforma política. Isso não é novidade, mas apenas consequência do lado bifronte do brasileiro. O choque de sistemas sociais só poderia nos agravar o costume inconsciente da personalidade dupla. Por exemplo, por um lado, achamos um absurdo a violência policial contra os cidadãos, mas achamos natural que bandidos sejam fuzilados sumariamente pela polícia. Em consequência, o modelo de autoridade oscila entre o pilatismo (o lavar as mãos) e a truculência.
O modelo de autoridade é uma engenhosa construção legal para impedir que os eleitos possam direcionar as políticas públicas seguindo os programas partidários. Ora, a democracia foi concebida para que os eleitos assumam a coerção sobre a máquina pública na implementação de políticas e no exercício da administração. Mas bloqueada pela inamovibilidade, a política se transformou num teatro de faz de conta, de despistamento, de dissimulações. Nesse ambiente, os bons governantes são como os bons samaritanos: precisam do despertar da apatia dos funcionários para a conversão em ativismo governamental.
Não há prefeitura no Brasil em que não se encontrem departamentos completamente sucateados por gente cuja maior ocupação é justamente inverter a ordem natural das coisas. E a inversão só é garantida se o ambiente permite a proliferação das corriolas, das camorras e camorrinhas amparadas por direitos (e despeitos) que os eleitos não podem revogar. Outro aspecto da crise de autoridade no mundo da administração pública é a troca da esfera de decisão. Em qualquer estado moderno, as questões administrativas são tratadas única e exclusivamente no âmbito da administração. Por uma confusão intelectual, e interesse em proteger o aparato corporativista do resto da sociedade, foram repassadas ao Judiciário as decisões no âmbito administrativo, provocando a tragédia do modelo de autoridade atual.
Este lento avanço corresponde ao entendimento banal e equivocado de que o papel do Judiciário é resolver conflitos de opiniões entre os membros da sociedade, e, portanto, vão a julgamento as questões administrativas de praxe, tornando a administração pública um mero faz de conta. Ora, o Judiciário existe para resolver problemas jurídicos, e não para resolver problemas administrativos.
Essa usurpação de poderes é talvez o lado mais falho do nosso modelo social implantado pela Constituição de 88. Considere — como um exemplo entre dezenas — a questão dos aparelhos celulares nos presídios. Alguém acredita que em prisões americanas traficantes de drogas tenham acesso a celulares nos presídios? É claro que não. No Brasil, a administração penitenciária não consegue evitar que seus detentos tenham acesso a celulares porque seus advogados não só entram e saem a hora que bem entendem dos presídios, como também transitam com o que querem para dentro e para fora deles, para não falar do resto. E por quê? Porque liminares garantem suas vontades em detrimento do que possam pensar e agir os encarregados da administração.
Portanto, trata-se de uma usurpação de autoridade em que o Judiciário comanda o que deveria ser atribuído à administração, imiscuindo-se onde não deveria, como acontece em qualquer democracia de primeiro mundo. Ora, isso às vezes chega à beira do ridículo, quando uma universidade pública marca a data do vestibular e um figurão, incomodado com a atrapalhação em suas férias por causa dos filhos vestibulandos, consegue alterar a data do vestibular com uma liminar, sem qualquer respeito à autoridade administrativa.
A confusão entre o que é jurídico e administrativo comprova não só a falência do nosso modelo, como também serve de estímulo à imoralidade transgressora dentro da administração pública. Esse regime de exceção, tão galopantemente implementado no pós-ditadura, é um dos pontos viscerais da impotência do Estado na execução de qualquer política pública, e paradoxalmente referendado dia-a-dia pelas meias-cabeças no Congresso Nacional.
2. Estilo de monopólio
Uma das características mais importantes do semicapitalismo é a expressão cunhada por Lobato na campanha do petróleo: "o governo NÃO FAZ E NEM DEIXA FAZER". Lobato demonstra incansavelmente que o governo não só impedia as empresas privadas brasileiras de explorarem petróleo, como também se recusava a assumir a sua exploração, entregando-se à conspiração dos interesses ocultos, representados naquela época pela política monopolística traçada pela Standard Oil e associadas.
Tempos depois, e sob o fracasso de fornecimento de gasolina na II Guerra Mundial, Vargas cria a Petrobras com a finalidade de ser um monopólio na exploração e refino do petróleo, seguindo o modelo siderúrgico iniciado em Volta Redonda. Novamente, os brasileiros são deixados de lado por mais de 50 anos. A esse modelo seguem-se os modelos energético, ferroviário, de saneamento e o de telecomunicações.
Se os monopólios garantiam a exclusão de empreendedores nacionais privados na exploração de recursos, uma política equivalente deveria ser oferecida aos seus funcionários. Criou-se então o monopólio sobre o emprego, uma garantia que fizesse dos perigos da democracia representativa um instrumento meramente ilusório para inserir o país na corrente mundial da democracia, sem que esta pudesse ameaçar a natureza feudal de seu sistema público. É por isso que Huntington em seu 'Choque de Civilizações' afirma que a América Latina não pertence à civilização ocidental e cristã. E é por isso que entre as cabeças ilustradas do primeiro mundo, o Brasil não passa de uma piada organizacional, e ainda quer ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU...
3. Ideologia da diferença
Ora, o sistema público não se moderniza porque se mantém atrelado à ideologia da diferença: diplomatas, juízes, militares, previdenciários e até metroviários acham-se diferentes. Ninguém suporta a invenção moderna do princípio da igualdade. O resultado é a doutorice, Veja no Menu deste site a seção Lobato Essencial: artigo sobre 'Doutorismo' analisada tão lucidamente por Lobato em 'Mundo da Lua'.
4. Modelo de representação
O modelo de representação diz respeito à organização dos partidos políticos, sindicatos, associações paraestatais, como os órgãos de classe, etc. No semicapitalismo, esse modelo trata de uma relação em que ser representante significa livrar-se da posição em que se está para ascender a uma posição privilegiada — não apenas em salário, mas também em posição e em pequenos (ou grandes, conforme o caso) privilégios —, que nunca guardam relação de reciprocidade com a atividade privada. Se você olhar para o desfile de deputados no Congresso Nacional e se perguntar onde estariam e o que estariam ganhando aquelas Vossas Excelências se não estivessem lá, poderia entender como na vida política não existe nenhum altruísmo. O modelo de representação não se esgota na superficialidade de uma reforma política há tanto tempo apregoada e logo encerrada em 2 ou 3 salamaleques legais.
O modelo de representação foi elaborado tendo em vista o fato da maioria da sociedade civil não estar no Estado, e este mesmo Estado representar a si mesmo como maioria. Tarefa difícil, mas não impossível, basta que se cumpram algumas exigências prévias.
Primeira: o político tem que se sentir membro do Estado e não da sociedade.
Segunda: a liberdade dos políticos em determinar seus próprios salários e benefícios está relacionada com a aceitação de que o Estado é diferente da sociedade e todo o aparato de autoridade deve ser arranjado para esta finalidade. Como o sistema não representa toda a sociedade, a solução para o problema de representação consiste em fazer com que o funcionalismo tenha preponderância no exercício dessa representação.
A representação produz uma expansão curiosa no tecido estatal, por exemplo: a cada 2 anos, os funcionários conseguem licença de 3 meses para agir como candidatos ou cabos eleitorais de candidatos. A imprensa noticiou o aumento de 700% nos pedidos de licença, somente entre professores do RS, para fins de candidatura aos pleitos municipais entre 2002 e 2004 (alguma relação com a queda da qualidade do ensino?). A expectativa parece ser bastante animadora para os professores (e funcionários), pois uma vitória permite um salto no salário, no caso de mandato parlamentar ou executivo, e no caso de cabo eleitoral, uma vitória do preposto oferece a possibilidade de um salário extra como assessor parlamentar, burocrata da máquina pública e tantas vaguinhas mais.
Terceira: liberdade para loteamento da máquina pública para fins de arregimentação de força eleitoral, ou seja, uma perversão da autoridade: o político nomeia, mas não pode demitir. Ao nomeado basta a esperteza de ler as leis para ascender salarialmente. Depois, um processinho na Justiça e os benefícios vão subindo, na maior cara de pau, já que "daqui não saio, daqui ninguém me tira".
O modelo de representação atual está profundamente relacionado com o voto obrigatório. Se o voto não fosse obrigatório, uma lei eleitoral teria que estabelecer os quocientes eleitorais e os procedimentos de legitimidade para ocupação dos cargos. Obviamente que o não comparecimento às urnas demoliria a aposta na supremacia dos ignorantes sobre os ilustrados (cuja proporção em números aumenta estratosfericamente a cada ano), dos desinformados sobre os informados, dos desinteressados sobre os interessados. Os políticos teriam que convencer os eleitores a ir às urnas e isso não se faria sem a contínua prestação de contas de seus mandatos. Mas nada disso acontece com o voto obrigatório. O voto cai de lambuja na urna (e no bolso) dos políticos, vindo de gente que nem sabe em quem votou, odeia votar e tem raiva dos próprios políticos que elegem. E eles sabem disso.
fim
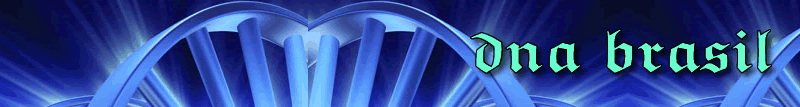








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não é permitido linguagem abusiva, de cunho racista ou pornográfica e ofensas pessoais.